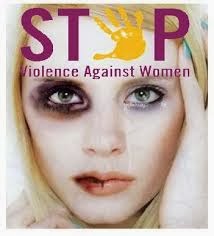|
| Casa de Saúde Anchieta - foto em 2007 |
“Dentro de poucos dias será inaugurado em Santos o maior e mais moderno hospital particular da América do Sul. Trata-se da Casa de Saúde Anchieta, presentemente funcionando à Av. Ana Costa, 168, e que será instalada em edifício próprio, especialmente construído à Rua São Paulo, 55. Terá o mais completo serviço médico do Brasil, no gênero. Modernamente equipada para oferecer assistência e tratamento de doenças do sistema nervoso, sob os cuidados de seis neuro-psiquiatras de São Paulo e dois clínicos de Santos - Serviço especial para pessoas idosas e para casos de alcoolismo. Enfermagem especializada sob a direção de enfermeira diplomada e ambulatório para doentes externos.
A própria fachada do edifício da Casa de Saúde Anchieta é o exemplo típico do arrojo e empreendimento desses psiquiatras que, antes de qualquer objetivo monetário, procuraram concretizar um velho sonho: dotar Santos de uma casa especialmente construída para oferecer o máximo de conforto aos enfermos da mente.”
- Trecho da matéria publicada em 1º de Maio de 1953, no Jornal A Tribuna
Fundada em 1953, a antiga Casa de Saúde Anchieta era um hospital modernamente equipado, como vendia a propaganda, mas proporcionou durante anos um circo de horrores, onde pacientes, confinados e amontoados eram torturados com eletrochoques e espancados pela equipe de enfermagem especializada.
Em 3 de maio de 1989, foi decretado o fim do hospital, marcando o início da luta antimanicomial no país. Com o fechamento, decretado pela Prefeitura, profissionais da saúde, com aval da justiça, ocuparam o local, libertaram das correntes aqueles que ali estavam e puseram fim à angústia e ao sofrimento. Acontecia, naquele momento, a interdição do lugar.
“Antigamente todos os pacientes com problemas da mente, da cabeça eram tratados como loucos e perigosos, então, tinha essa medida de segurança. Onde se pegava todo mundo que tinha problema na cabeça, era louco, retardado mental e colocava no mesmo lugar para segurança dele e de outras pessoas. Hoje se acredita que isso não é mais aceito e que o paciente com problema da cabeça pode fazer o tratamento em casa e ter benefícios. Essa é a diferença de hoje pra antigamente”. As afirmações são do psiquiatra Mario Ileki Junior, que trabalha no Pólo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da Baixada Santista (PAI) há um ano.
Inaugurado há três anos, o PAI Baixada Santista tem o objetivo de tratar o paciente em surto sem os tratamentos que eram usados antigamente. Os novos métodos usados pela unidade envolvem terapeutas ocupacionais, psiquiatras, assistentes sociais e professores de educação física.
“O que eles faziam era: ‘surtou? Então tira da sociedade’, era mais ou menos o que acontecia. Pegava e colocava dentro de um hospital como esse, trancava. Você tinha um excesso de paciente com um mínimo de médicos, um mínimo de profissionais, então você não tinha como tratar”, afirma o assistente social Alexandre Cruz, que trabalha no PAI há mais de três anos, como coordenador de atendimento e apoio.
Os eletrochoques
O símbolo deste período, anterior aos anos 90, era o eletrochoque. “O paciente fez uma “malcriação”, então vai e dá um choque.”
Cruz explica que hoje a eletroconvulsoterapia pode ser um instrumento positivo. “Ela é utilizada em hospitais tops, como Albert Einstein, somente para determinados casos, então, essa é a grande diferença. Em Santos, esse tipo de tratamento é proibido”.
A terapia de eletrochoque é aplicada desde a década de 30. As doenças psiquiátricas provocam alterações de atividade cerebral. O psiquiatra Mario Ileki Junior explica que “hoje em dia essas atividades [eletrochoques] ainda existem com intensidade diminuída, não são esses que você vê pelos filmes, uma voltagem muito grande, e sim micro voltagem, onde o paciente é sedado, com uma descarga elétrica na região encefálica, onde há um alteração na ativação elétrica do cérebro”.
 |
| O fechamento simbolizou a luta antimanicomial |
O tratamento nos dias de hoje
Cruz exemplifica o trabalho do PAI. “Para se ter uma ideia do trabalho de primeiro atendimento com a família, tivemos um paciente que era um andarilho em São Vicente. Ele ficava pelas ruas da cidade, abrindo sacos de lixo e comendo. A família, composta por três irmãos, não cuidava dele, que morava sozinho. Os irmãos estavam unidos para cuidar da mãe, que estava com câncer, e faleceu em dezembro de 2010 ou de 2011. Então dois deles se juntaram e começaram a cuidar desse quarto irmão [o andarilho]. A princípio, levaram no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de São Vicente, mas não deu jeito, porque lá é porta aberta, e aí pediram encaminhamento pra cá. No primeiro atendimento, ele não falava nada com nada, então a família veio aqui para conversar com o médico. No atendimento, é feita uma série de questões, pegando várias informações do paciente, que, pra nós, é muito relevante”.
O andarilho tinha sido maestro e funcionário público em Praia Grande. Estas informações, fruto da anamnese (a entrevista inicial), serviram para que os terapeutas se aproximassem do paciente. “As terapeutas ocupacionais trabalham muito com pintura e direcionaram pra ele notas musicais. Começou um interesse por parte dele. Antes ele ficava no quarto, e com o decorrer do tempo começou a sair, a participar das atividades.”
O paciente apresentou também mudanças na relação com os irmãos. “Na hora da internação, esses dois irmãos comentaram que tinha um terceiro que o paciente odiava. Então, um dia estou na minha sala e esse outro irmão veio visitar. Sentei com ele, conversei pra entender como é a situação, que com ele o paciente era meio agressivo. Chamei um técnico de enfermagem, contei a situação e acompanhamos a visita. Foram chamar o paciente, e quando ele viu quem era essa visita, ele voltou pro quarto. Pedi pra ele aparecer mais vezes, e, num outro dia ele voltou, e foi diretamente no quarto, onde o paciente estava deitado. Eles conversaram um pouco, mas foi rápido e com o tempo esse vínculo voltou.”
Depois da alta médica, o paciente retornou para uma atividade do Dia Mundial da Saúde Mental, quando tocou piano. “Ele tocou para os pacientes, fizemos um coffee break e foi bem legal”, conta o assistente social.
“Temos que tratar a família”
O contato com a família é essencial para o que o paciente volte a si e saia do surto. As mesmas atividades que são feitas no hospital, como pintura e colagem, podem ser feitas em casa. Muitas famílias não sabem o que fazer quando o paciente recebe a alta.
Além de pacientes com transtornos mentais, o PAI também recebe uma demanda de usuários de drogas. Segundo o assistente social, os dependentes químicos não tem a visita familiar tão frequente em relação àquele paciente com algum tipo transtorno. “O ideal é a família estar participando, não adianta você tratar só do paciente, você tem que cuidar da família, explicando como continuar o tratamento, como levar, onde levar. Inclusive, o paciente sai daqui com cinco dias de medicamento, para dar tempo de procurar o serviço”.
Depois do fechamento da Casa de Saúde Anchieta, alguns pacientes se juntaram ao Grupo Tam Tam, projeto criado por Renato di Renzo, de teatro solidário e se dedicaram à criação da Rádio Tam Tam, onde os loucutores eram os próprios “doentes da cabeça”. O grupo Tam Tam completa 25 anos em 2014.
No entanto, o fantasma da Casa de Saúde Anchieta não se dissipou por completo. Não se trata somente das lembranças, mas de outro problema, também de ordem social. O local onde ficava o Anchieta se transformou em um cortiço, onde residem 15 famílias.
* Este é o décimo-segundo e último texto da série "Os Indesejados", projeto de estudantes de Jornalismo da Universidade Católica de Santos (Unisantos).